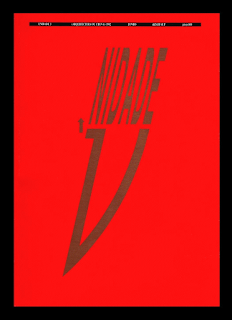Susana e os Velhos, Tintoretto, 1560
Li, com atenção, a análise d’A Barriga ao projecto do Novo Museu dos Coches. Reli uma segunda vez. E não consegui chegar a nenhuma conclusão sobre o posicionamento de Daniel Carrapa sobre o objecto que se propôs analisar.
No entanto diria, com toda a certeza, que é exactamente na questão que a Barriga tão cedo põe de lado (da poética laudatória aos amadorismos do "gosto") que se resolveria tão delicado problema.
Alertei a Barriga para o problema: subjugar o (que ela chama de) amadorismo do gosto a pontos de vista tecnocráticas é um daqueles erros básicos que só faz quem se propõe avaliar arquitectura de forma tecnocrática.
Ao que A Barriga replica:
ao colocar de lado a questão do ‘gosto’ não pretendo avançar com uma análise ‘tecnocrática’ ou muito menos neutra do projecto. Mas não vejo outra forma de falar objectivamente sobre ele [claro que vê, meu caro, claro que vê]; avançando desde logo com a proposta de confrontar o projecto, objectivamente, com valores contemporâneos de arquitectura [que são]:
O projecto materializa um equilíbrio entre massa construída e os espaços vazios?
Confere identidade ao lugar?
Promove a diversidade de usos?
Permite uma boa apropriação do público?
Acolhe a multiplicidade e riqueza de actividades?
Experimentação?
Evasão?
Informação?
Promove uma boa vivência, permite convívio, isolamento, confere segurança?
O espaço envolvente é qualificado? Tem “funções”? Resulta numa boa urbanidade do lugar?
E a função Museu? Porque um museu não é apenas um edifício, não é apenas arquitectura, é acima de tudo conteúdos?
Aquela expressão infraestrutural serve a identidade do Museu dos Coches?
Como nos relaciona – exterior e interiormente - com a sua história?
Valoriza o seu potencial turístico? Economicamente, é uma mais-valia?
Dito isto concluo que estamos de facto perante um problema. Não o problema do Museu (isso não é bem um problema, mas apenas um projecto que correu mal a uma vida que correu bem), mas o problema da crítica, ou de falta dela.
Repare Daniel: qualquer que seja o tipo de resposta que encontre para cada uma das questão que levanta (sim/não; certo/errado; verdadeiro/falso; 1/2) ficamos na mesma.
Porque, como sabe, há projectos
que materializam um equilíbrio entre massa construída e espaços vazios que são geniais, e projectos
que materializam um equilíbrio entre massa construída e espaços vazios que são medíocres. Como também há projectos que não
materializam qualquer tipo de equilíbrios entre massa construída e espaços vazios que são, outra vez, geniais, e
projectos que não materializam qualquer tipo de equilíbrios entre massa construída e espaços vazios que são, infelizmente, banais.
Desde quando é que uma boa (excelente, vá lá) obra de arquitectura
promove a diversidade de usos ou acolhe a multiplicidade e riqueza de actividades? Estamos a pôr Viipuri de que lado?
Experimentação? Quem? O Pietila?
Evasão? Sullivan ou de La Sota?
Informação? Estará porventura o Daniel a pensar no Hertzberger?
Desde quando é que um edifício que
promove uma boa vivência, permite convívio, isolamento, confere segurança é um edifício genial? E o contrário… recordo muitos.
O espaço envolvente é qualificado? E se não for? É bom? É mau?
E depois, mais errada ainda:
aquela expressão infraestrutural serve a identidade do Museu dos Coches? Pergunta, como se não soubesse, meu caro, que a expressão (qualquer que ela seja) serve sobretudo a arquitectura.
Das questões d
e valorização do potencial turístico interrogo-me: o que é que a arquitectura tem a ver com isso?
Desconfio, claro, que aquilo que nos separa é a própria arquitectura enquanto possibilidade de interpretação: para si um conjunto de satélites em órbita de variantes encontradas caso-a-caso; para mim a (simples) explicação do objecto através dele próprio (chame-lhe
gosto se quiser); como aliás se faz na (boa) crítica literária, na (boa) crítica musical, na (boa) crítica poética.
Lembrar-se-ia alguma vez de abordar um Livro do Herberto Hélder como experimental (sim/não), evasivo (sim/não), ou através da análise qualitativa do seu espaço envolvente? Não creio.
Até porque não há obras valiosas em arquitectura (pelo menos na moderna) que não sejam intolerantes e demolidoras dos esquematismos castrenses ou tecnocráticos, como também dos espartilhos do uso. Público e privado.
Por isso obras valiosas são tão escassas. E todas estas não são, ao longo da história, outra coisa que não crítica e paródia a outras grandes obras; que levantam, claro, o único problema que a crítica distante e distanciadora é incapaz de resolver: a sua própria natureza limitada e limitadora.
A crítica feita dessa maneira, meu caro, é sobretudo uma autocrítica, que fica escrava das suas próprias limitações, sem (sequer tentar) perceber o que tem à sua frente.
A outra crítica –
aquela da poética laudatória aos amadorismos do "gosto"; como lhe chama -, como também o acto de fazer arquitectura, é um ciência poética (desculpe a expressão Daniel, mas estou acordado há horas demais para me lembrar de outra mais elegante), mas que, ao contrário da primeira, não requer uma grande formação tecnológica.
Relembro as palavras de António Miranda (
Ni Robot Ni Bufón) – livro, aliás, que aconselho vivamente (nota: o brilhante texto contraditório da tese de Miranda, publicada na última parte do livro, é também de Miranda, embora não pareça):
basta, segundo as indicações evangélicas, tentar (como cordeiro entre lobos) ser sensato como a pomba, mas astuto como a serpente, e abandonar o papel das virgens insensatas para adoptar o das virgens prudentes.
Todos podemos alcançar um alto nível de crítica usando a ironia, usando tópicos, prejuízos, sentidos comuns, ideologias, paranóias pessoais e [até] o mau gosto burguês
Se não gostar de Miranda poderá sempre usufruir as palavras de um autor (julgo) bem mais próximo da sua sensibilidade pessoal (ia dizer gosto, mas arrependi-me):
Não tenho princípios (...) julgar com as ideias e os sentimentos sempre me pareceu um destino soberbo. A indiferença pelas chamadas virtudes cívicas e para com os apetrechos mentais do instinto gregário resulta não só útil para o artista [para o crítico], mas é seu dever absoluto. Se isto é amoral, a culpa é da natureza (…) A sinceridade é o grande obstáculo que o artista [crítico] tem que vencer. Unicamente uma disciplina prolongada, uma aprendizagem de simplesmente sentir as coisas, pode levar o espírito ao seu próprio culminar.
Dito isto, termino reafirmando:
O problema do Museu dos Coches do Paulo Mendes da Rocha é, simplesmente, o de ser um mau projecto. Não por fazer uma praça sei lá aonde. Não por estar cortado ao meio. Não por ser o contrário do CCB. Mas simplesmente porque é,
amadoristicamente falando, formalmente despropositado; sem que no entanto nos dê algo em troca.
É uma espécie de infelicidade que acontece a todos. Uma infelicidade para PMR, uma infelicidade para Belém. E uma infelicidade para mim, que gosto de um e do outro.
Obrigado.